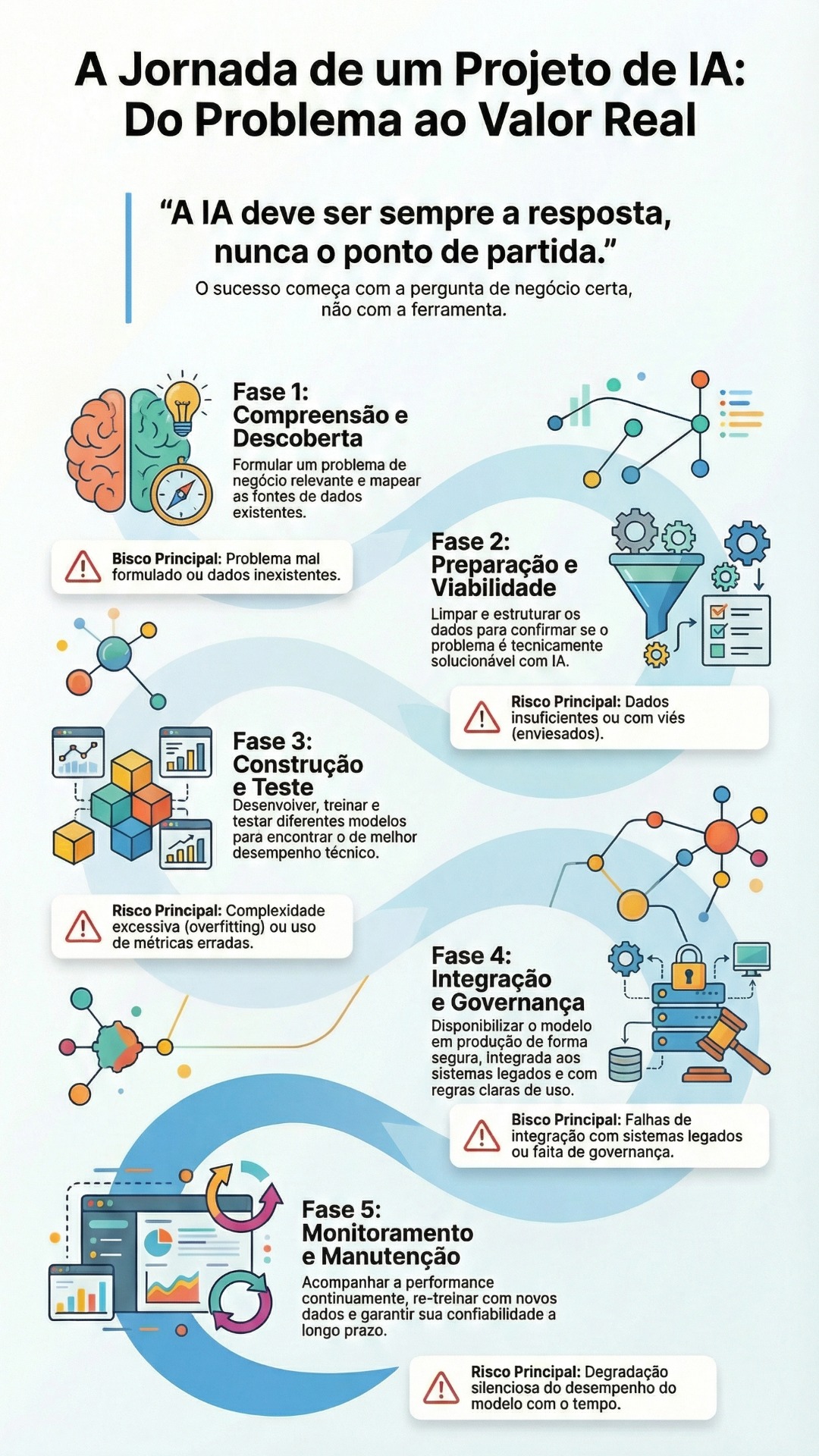Resumo Executivo
O setor elétrico brasileiro atravessa um ponto de inflexão. A expansão acelerada da geração eólica, fotovoltaica e distribuída consolidou o país como líder em energias renováveis, mas trouxe consigo um efeito colateral de magnitude inédita: o curtailment — cortes deliberados de geração por razões energéticas, de confiabilidade ou restrições de rede. Somente em agosto de 2025, mais de 4,4 TWh de energia limpa foram descartados, equivalentes a cerca de um quarto da produção do período.
Ao contrário da percepção corrente, o curtailment não é um “cisne negro”. Trata-se de um risco previsível, já observado em mercados como Califórnia, Alemanha, China e Índia, e identificado por relatórios técnicos do ONS. Ignorar esse fenômeno nas análises de viabilidade significa subestimar vulnerabilidades estruturais e comprometer a responsabilidade fiduciária dos conselhos de administração.
Além da sobreposição entre geração e carga, o Brasil enfrenta um desafio adicional: a rápida expansão da micro e minigeração distribuída (MMGD). Em setembro de 2025, essa modalidade já somava 42,3 GW de potência instalada, quase toda proveniente de energia solar fotovoltaica, com forte predominância do setor residencial. Projeções oficiais indicam que esse número pode chegar a até 97,8 GW em 2035, ampliando ainda mais a pressão sobre as usinas centralizadas e a necessidade de cortes.
As decisões de investimento em renováveis precisam, portanto, incorporar cenários de corte em seus modelos financeiros e em seus processos de governança. Esse movimento é essencial para preservar a rentabilidade dos projetos, a credibilidade dos fundos e a confiança de investidores institucionais que buscam exposição a ativos sustentáveis.
Paralelamente, multiplicam-se as soluções propostas para mitigar o curtailment: baterias (BESS), hidrogênio verde (H2V), usinas reversíveis (PHS) e demand side management (DSM). Todas oferecem oportunidades estratégicas, mas também escondem armadilhas. Custos elevados, ausência de regulação clara, prazos longos de maturação e incertezas de mercado podem transformar promessas em novos focos de frustração.
Este artigo traz lições estratégicas para conselhos de administração: compreender que o curtailment não é um imprevisto, mas uma realidade estrutural; adotar uma postura de prudência diante de soluções emergentes; e alinhar decisões de investimento a uma governança robusta, capaz de antecipar riscos e fortalecer a resiliência corporativa frente aos dilemas da transição energética.
O que é o Curtailment e por que ele importa
Curtailment é o termo técnico utilizado para descrever a redução deliberada da geração de energia, mesmo quando os recursos naturais — vento ou sol — estão disponíveis em abundância. Em outras palavras, trata-se de “desligar” parte da produção de usinas eólicas e fotovoltaicas, não por falha tecnológica, mas por limitações do sistema elétrico ou pela necessidade de manter a confiabilidade da rede.
No Brasil, o Operador Nacional do Sistema (ONS) classifica os cortes em três categorias:
- Razões energéticas: quando há sobreoferta de geração em relação à carga do sistema.
- Razões de confiabilidade: quando é necessário preservar a segurança operativa, respeitando limites de transmissão e estabilidade.
- Indisponibilidade externa: quando restrições ou falhas externas à usina impedem o escoamento da energia.
Esse fenômeno deixou de ser marginal. Apenas em agosto de 2025, o curtailment somou 4,458 TWh, cerca de 25% de toda a geração eólica e solar do mês. Em alguns conjuntos de usinas, os cortes superaram 60% da produção potencial. Esse quadro ameaça a rentabilidade de projetos em operação e compromete a viabilidade de investimentos futuros.
O impacto é duplo:
- Econômico-financeiro: receitas projetadas deixam de se materializar, pressionando contratos de PPA, financiamentos e retornos esperados por fundos.
- Reputacional e regulatório: cortes sucessivos expõem contradições — enquanto energia renovável é desperdiçada, térmicas seguem despachadas e tarifas sobem. Esse desalinhamento mina a confiança de investidores e sociedade.
Internacionalmente, o curtailment é visto como um sinal de que a transição energética avançou além da capacidade de adaptação do sistema elétrico. Na Califórnia, na Alemanha e na China, os cortes cresceram rapidamente quando a penetração renovável atingiu determinados patamares. No Brasil, o alerta está dado: o curtailment não é anomalia, mas consequência estrutural da combinação entre expansão acelerada de fontes variáveis, defasagem da transmissão e ausência de instrumentos de flexibilidade.
Para conselhos de administração, compreender esse conceito é crucial. Não se trata apenas de um detalhe técnico, mas de um risco estratégico que pode comprometer margens, reduzir o valor de mercado das empresas investidas e expor falhas na governança de risco. Incorporar o curtailment no radar da alta administração é, portanto, uma condição básica para decisões responsáveis em energia renovável.
Experiências Internacionais: lições aprendidas
A trajetória de outros países demonstra que o curtailment não é uma peculiaridade brasileira, mas uma consequência recorrente da expansão acelerada das fontes renováveis variáveis. Examinar esses casos permite identificar padrões e lições valiosas para os conselhos de administração que buscam avaliar investimentos com visão de longo prazo.
Califórnia: o “duck curve” e os cortes solares
Na Califórnia, a rápida expansão da energia solar criou o fenômeno conhecido como “duck curve”: durante o dia, a geração solar supera a demanda, mas à noite o sistema volta a depender fortemente de térmicas. Esse descompasso levou a cortes massivos de geração fotovoltaica. A resposta regulatória foi a realização de leilões dedicados de armazenamento e programas de demand response, criando novos mecanismos de flexibilidade para integrar a energia solar. Ainda assim, os cortes permanecem relevantes, mostrando que o problema não se resolve apenas com baterias.
Alemanha: limites de rede e integração regional
Na Alemanha, o desafio decorre principalmente da distância entre os parques eólicos do norte e os centros consumidores do sul. Gargalos de transmissão resultaram em cortes frequentes, apesar da alta participação de renováveis na matriz. A solução encontrada foi intensificar a integração regional, expandindo interconexões com países vizinhos e ajustando os mercados para absorver excedentes. Mesmo assim, subsistem pressões políticas e econômicas sobre quem arca com os custos do curtailment.
China e Índia: cortes massivos e falhas regulatórias
Na China, regiões como Xinjiang e Gansu chegaram a registrar taxas de curtailment superiores a 30% da produção eólica. A principal causa foi a falta de coordenação entre a velocidade da expansão renovável e a construção de linhas de transmissão. A Índia viveu dilema semelhante, com cortes significativos de solar em estados como Rajasthan e Gujarat, agravados por falhas regulatórias e dificuldades financeiras das distribuidoras. Nos dois casos, ajustes de mercado e políticas corretivas reduziram parcialmente o problema, mas não eliminaram a desconfiança dos investidores.
Principais ensinamentos para o Brasil
Os exemplos convergem em três lições centrais para conselheiros:
- Curtailment cresce com a penetração renovável – quanto mais rápido o avanço, maior a probabilidade de cortes.
- Tecnologias sozinhas não resolvem – baterias, hidrogênio verde ou usinas reversíveis ajudam, mas não substituem a necessidade de gestão integrada.
- Integração regulatória e planejamento sistêmico são decisivos – sem ajustes na governança, nos sinais de mercado e na infraestrutura de rede, as soluções tecnológicas correm o risco de se tornar paliativos caros e ineficazes.
Assim, a mensagem-chave é clara: conselhos de administração não devem interpretar o curtailment como uma anomalia local, mas como uma tendência global previsível, que exige prudência, diversificação e pressão por políticas públicas consistentes.
O caso brasileiro segundo o ONS
O fenômeno do curtailment no Brasil ganhou relevância após a perturbação ocorrida em 15 de agosto de 2023, quando falhas na resposta dinâmica de usinas eólicas e fotovoltaicas evidenciaram discrepâncias entre o desempenho real das plantas e os modelos matemáticos fornecidos pelos agentes. Esse episódio marcou um ponto de inflexão: a partir dele, o Operador Nacional do Sistema (ONS) passou a adotar critérios mais conservadores e restrições adicionais, reduzindo a capacidade de escoamento do sistema e elevando os cortes de geração .
Projeções 2026–2029: cortes crescentes
Segundo o relatório RT DGL-ONS 0189/2025, a tendência é de agravamento. Se todas as usinas com Contrato de Uso do Sistema de Transmissão (CUST) entrarem em operação, os cortes médios podem chegar a 10% da geração eólica e ultrapassar 20% da geração solar até 2029 . Em horários de maior insolação, os cortes podem superar dezenas de gigawatts, transformando o desperdício de energia limpa em fenômeno estrutural.
Particularidades nacionais
O contexto brasileiro apresenta desafios próprios que ampliam o impacto do curtailment:
- Forte crescimento da MMGD/GD – em setembro de 2025, a capacidade instalada de micro e minigeração distribuída (MMGD) atingiu aproximadamente 42,3 GW, com aumento de mais de 5 GW apenas nos primeiros sete meses do ano. A grande maioria dessa potência (98,9%) é proveniente da energia solar fotovoltaica, sendo o setor residencial o dominante, com cerca de 80% das usinas em operação. Estados como São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso lideram o crescimento em potência instalada. Projeções do MME e da EPE indicam que a MMGD pode alcançar entre 61,4 GW e 97,8 GW até 2035, ampliando ainda mais seu peso no sistema. Como não está sob controle direto do ONS, sua expansão reduz a carga atendida por usinas centralizadas e amplia a necessidade de cortes sobre estas últimas.
- Gargalos de transmissão – embora o país tenha avançado em leilões de linhas, a expansão da rede segue defasada em relação ao crescimento da geração renovável, sobretudo no Nordeste, região que concentra os maiores parques.
- Deficiências de modelagem e suporte dinâmico – os modelos fornecidos pelos agentes não refletiam adequadamente o desempenho das usinas em condições reais, o que fragilizou o planejamento. A necessidade de reforços como compensadores síncronos no Rio Grande do Norte é exemplo de como o sistema ainda depende de ajustes estruturais .
Síntese para conselhos
O diagnóstico do ONS é inequívoco: o curtailment deixou de ser uma anomalia conjuntural e passou a ser um elemento estrutural da operação do SIN. Para os conselhos de administração, isso significa que qualquer decisão de investimento em eólica e solar no Brasil deve considerar o risco de cortes significativos como parte integrante da equação financeira e estratégica. Ignorar esse alerta seria repetir os erros de avaliação observados em outros mercados.
Governança de Investimentos: pontos de atenção para conselhos
A governança corporativa tem papel central na condução de investimentos em energia renovável. No entanto, observa-se que muitos conselhos de administração e comitês de investimento enfrentam lacunas de avaliação estratégica ao analisar projetos de eólica e solar. Essas lacunas não decorrem de má-fé, mas de excesso de otimismo e da ausência de cenários adversos nos modelos financeiros.
- Risco de avaliações incompletas: Grande parte das análises de viabilidade desconsidera ou minimiza o impacto do curtailment. Em muitos casos, os estudos assumem cortes marginais de 5% a 10%, quando a realidade recente já evidencia taxas muito mais elevadas. Essa omissão compromete o realismo dos fluxos de caixa projetados e cria expectativas desalinhadas com a operação.
- Excesso de confiança no regulador: Outro ponto recorrente é a crença de que o marco regulatório brasileiro, historicamente robusto, corrigiria rapidamente os desequilíbrios entre expansão da geração e da transmissão. Esse “otimismo regulatório” levou muitos investidores a assumir que a rede elétrica sempre se expandiria no mesmo ritmo da geração renovável, o que não ocorreu.
- Atração pelo selo ESG: O apelo de projetos de energia renovável, muitas vezes alavancados por sua aderência às agendas ESG, tem levado conselhos a aprovarem investimentos sem a devida realização de stress tests financeiros. A narrativa positiva da transição energética, ainda que legítima, não deve suplantar a disciplina técnica da avaliação de riscos.
- Responsabilidade fiduciária: Para além da questão econômica, há o aspecto de responsabilidade fiduciária. Conselheiros têm o dever de diligência, lealdade e transparência perante seus acionistas e cotistas. Incorporar cenários de curtailment, avaliar impactos regulatórios e exigir planos de mitigação não são apenas boas práticas — são obrigações inerentes à função. A omissão diante de riscos conhecidos pode ser interpretada como descuido estratégico e comprometer a credibilidade institucional.
Assim, o papel dos conselhos não é apenas aprovar projetos pela atratividade imediata, mas garantir que os investimentos estejam sustentados por análises realistas, prudentes e alinhadas à complexidade do setor elétrico em transformação.
Soluções em debate: oportunidades e armadilhas
A pressão causada pelo curtailment tem colocado uma série de tecnologias no centro das discussões estratégicas. Elas são apresentadas como instrumentos capazes de absorver excedentes de energia, estabilizar a rede e viabilizar o crescimento sustentável da matriz renovável. Contudo, nenhuma delas é isenta de limitações. Conselhos precisam compreender seus fundamentos para formular as perguntas certas e evitar decisões baseadas apenas em narrativas de mercado.
BESS (Battery Energy Storage Systems)
Entre as soluções mais difundidas no debate setorial, os sistemas de armazenamento em baterias ocupam posição de destaque, especialmente pelo apelo de flexibilidade e pela velocidade de resposta que oferecem.
- Como funciona: armazena energia em baterias (tipicamente de íon-lítio), permitindo liberar eletricidade em horários de maior demanda ou quando o sistema precisa de suporte.
- Aplicações práticas: regulação de frequência, reserva de capacidade, suavização da intermitência, arbitragem de preços.
- Benefícios: resposta quase imediata, modularidade, possibilidade de instalação próxima aos parques eólicos/solares ou nos centros de carga.
- Limitações: alto custo de investimento (LCOS entre US$ 190–430/MWh em estudos recentes), rápida obsolescência tecnológica, vida útil em torno de 10–15 anos, dependência de regulamentação para monetizar serviços ancilares.
- Perguntas para conselheiros: O projeto tem modelo de remuneração sustentável? Os custos consideram reposição tecnológica? Existe arcabouço regulatório que reconheça o valor do armazenamento?
H2V (Hidrogênio Verde)
O hidrogênio verde desponta como um dos vetores mais promissores da transição energética, frequentemente associado a novos mercados e exportações de alto valor agregado.
- Como funciona: utiliza eletricidade renovável para alimentar eletrolisadores que quebram a molécula da água em oxigênio e hidrogênio. O H2 pode ser armazenado, transportado ou usado em processos industriais e geração elétrica.
- Aplicações práticas: descarbonização de siderurgia, química, fertilizantes, transporte pesado e geração elétrica em células a combustível.
- Benefícios: armazenamento de longo prazo, potencial de criar uma nova cadeia de valor exportadora, complementaridade com projetos renováveis de grande porte.
- Limitações: custos ainda elevados (US$ 3–6/kg, contra <US$ 2/kg como meta de competitividade), ausência de mercado doméstico estruturado, necessidade de infraestrutura logística (dutos, portos, tanques).
- Perguntas para conselheiros: Há mercado contratual para absorver a produção de H2V? O projeto depende de incentivos governamentais ou subsídios internacionais? Qual a estratégia de saída em caso de atraso regulatório?
PHS (Pumped Hydro Storage – Usinas Reversíveis)
As usinas reversíveis se destacam pelo potencial de armazenamento em grande escala e pela robustez técnica, mas exigem visão de longo prazo e forte coordenação regulatória.
- Como funciona: bombeia água para um reservatório elevado em horários de sobra de energia e a libera em turbinas quando há maior demanda.
- Aplicações práticas: armazenamento em grande escala, suporte ao despacho noturno, substituição de térmicas em parte do sistema.
- Benefícios: vida útil longa (40–60 anos), escala relevante (centenas a milhares de MW), tecnologia madura.
- Limitações: prazos longos de licenciamento e construção (8–12 anos), impactos socioambientais significativos, necessidade de condições geográficas específicas.
- Perguntas para conselheiros: O cronograma do projeto é compatível com a urgência do problema? Existe clareza sobre licenciamento ambiental? Há mecanismos de remuneração de longo prazo para justificar o CAPEX elevado?
DSM (Demand Side Management) e Eficiência Energética
As medidas de gestão do lado da demanda e de eficiência energética são muitas vezes subestimadas, mas oferecem benefícios consistentes e sustentáveis quando integradas ao planejamento do setor.
- Como funciona: desloca ou reduz o consumo em horários de sobra de energia, usando tarifas dinâmicas, automação e incentivos. Inclui também medidas permanentes de eficiência energética em edifícios, indústrias e iluminação.
- Aplicações práticas: resposta da demanda em horários de pico, flexibilização do consumo industrial, uso de veículos elétricos como cargas moduláveis.
- Benefícios: baixo custo relativo, impactos consistentes na redução de demanda, ganhos sociais (menor pressão tarifária).
- Limitações: menor apelo para investidores institucionais, já que não gera ativos físicos escaláveis; depende de forte regulação e engajamento do consumidor.
- Perguntas para conselheiros: Há estrutura regulatória para remunerar consumidores que flexibilizam carga? O investimento em eficiência tem ROI comparável a projetos de geração? Como monetizar essa flexibilidade no mercado de energia?
Risco de substituição de problemas
Cada uma dessas tecnologias pode, se mal avaliada, transformar o dilema atual em uma nova fonte de risco. O conselho deve evitar a armadilha de apostar em “balas de prata” e, em vez disso, adotar uma visão integrada que considere:
- ciclo de vida do ativo,
- maturidade regulatória,
- riscos de mercado,
- prazos de implementação,
- e complementaridade entre tecnologias.
Práticas recomendadas para conselhos
O desafio do curtailment exige que os conselhos de administração adotem uma postura ativa e criteriosa na supervisão dos investimentos em renováveis. A responsabilidade fiduciária não se limita a aprovar projetos com boa narrativa ESG; é necessário garantir que riscos previsíveis sejam devidamente mapeados e mitigados. A seguir, destacam-se práticas recomendadas que podem ser incorporadas à agenda dos conselhos:
- Exigir cenários adversos em due diligence: Qualquer análise de viabilidade deve incluir cenários de corte de 20% a 30%, refletindo a realidade já observada no Brasil. Essa simulação deve impactar projeções de fluxo de caixa, indicadores de rentabilidade (IRR, payback) e contratos de financiamento. Ignorar essa variável equivale a projetar retornos em terreno instável.
- Avaliar diversificação tecnológica: Os conselhos devem questionar se o portfólio de investimentos está excessivamente concentrado em eólica e solar. PCHs, biomassa e projetos híbridos (que combinam renováveis com armazenamento) podem oferecer firmeza, previsibilidade e complementaridade. A diversificação tecnológica não elimina o risco, mas reduz a exposição a cortes simultâneos e melhora a resiliência da carteira.
- Cobrar transparência regulatória e monitoramento ativo: É fundamental que a administração mantenha diálogo contínuo com o ONS e a ANEEL, reportando regularmente o impacto dos cortes e a evolução das regras. Conselhos devem solicitar relatórios periódicos sobre riscos regulatórios e acompanhar de perto consultas públicas que possam alterar a dinâmica de remuneração ou o rateio do curtailment.
- Estimular PPAs com cláusulas de flexibilidade: Os contratos de longo prazo precisam evoluir. Ao invés de PPAs estáticos, conselhos devem incentivar a adoção de contratos que incluam cláusulas de flexibilidade, seja para compensação de cortes, seja para hibridização futura. Essa adaptação protege receitas e amplia a margem de manobra diante de mudanças regulatórias ou tecnológicas.
- Monitorar a evolução regulatória: Temas como a integração ONS–DSO e o rateio da geração distribuída (GD/MMGD) estão em debate e podem alterar profundamente a forma como o ônus do curtailment é distribuído. Conselheiros devem se posicionar de forma proativa, orientando suas empresas a participar das discussões regulatórias e antecipar possíveis impactos sobre a governança dos projetos.
Assim, os conselhos deixam de ser meros aprovadores de projetos e passam a atuar como guardiões da sustentabilidade financeira e regulatória das decisões de investimento em renováveis.
Checklist estratégico para Conselheiros
A experiência internacional e o diagnóstico recente do ONS demonstram que o curtailment deixou de ser um risco marginal e se tornou uma realidade estrutural da operação elétrica. Nesse cenário, o papel dos conselhos de administração vai muito além da aprovação de investimentos em projetos renováveis. Cabe aos conselheiros garantir que as decisões estejam ancoradas em análises realistas, que contemplem cenários adversos, riscos regulatórios e a maturidade das soluções tecnológicas em debate.
Entretanto, a complexidade técnica do setor elétrico frequentemente distancia conselheiros — profissionais com sólida experiência em finanças, estratégia e governança — das questões operacionais mais específicas. Isso abre espaço para decisões enviesadas, seja pelo excesso de confiança nos reguladores, seja pela atração de narrativas sedutoras ligadas ao ESG.
O Checklist estratégico apresentado a seguir foi elaborado para servir como uma ferramenta prática de governança. Ele permite que conselhos formulem as perguntas certas, orientem suas diretorias executivas e cobrem relatórios consistentes sobre riscos e oportunidades. Ao adotar esse roteiro, os conselheiros assumem uma postura proativa de guardião da resiliência financeira e regulatória dos investimentos em energia renovável, evitando armadilhas e fortalecendo a confiança de investidores e acionistas.
| Etapa | Pergunta-chave | Objetivo da Reflexão |
| 1. Stress test financeiro | O curtailment foi considerado no stress test (20–30%)? | Garantir realismo nas projeções de retorno e evitar surpresas de fluxo de caixa. |
| 2. Planos de mitigação | Há plano de mitigação tecnológico e/ou regulatório? | Avaliar se a administração está estruturando alternativas concretas (híbridos, PPAs flexíveis, diálogo com regulador). |
| 3. Diversificação do portfólio | O portfólio está diversificado ou concentrado em ativos vulneráveis? | Reduzir exposição a cortes simultâneos e equilibrar riscos entre diferentes tecnologias. |
| 4. Armadilhas tecnológicas | Há riscos de “armadilhas tecnológicas” nos projetos de mitigação (ex.: BESS sem arcabouço, H2V sem mercado)? | Evitar investimentos baseados em soluções emergentes sem maturidade regulatória ou financeira. |
| 5. Monitoramento regulatório | O conselho está acompanhando a evolução regulatória (ex.: integração ONS–DSO, rateio da GD/MMGD)? | Antecipar impactos sobre contratos, tarifas e remuneração de ativos. |
| 6. Sinais de mercado | Há análise sobre PLD, bandeiras tarifárias e despacho térmico em paralelo ao curtailment? | Entender distorções de preço e seus impactos sobre a receita líquida dos projetos. |
| 7. Cenários de transmissão | A expansão da rede de transmissão acompanha a capacidade dos projetos contratados? | Evitar investir em ativos que podem ficar “ilhados” por gargalos de escoamento. |
| 8. Governança de risco | Há comitê ou estrutura dedicada para monitorar riscos energéticos no portfólio? | Institucionalizar a gestão de riscos, reduzindo dependência de análises pontuais. |
| 9. Engajamento setorial | A empresa participa ativamente de consultas públicas e associações setoriais? | Influenciar marcos regulatórios e proteger interesses de longo prazo. |
| 10. Estratégia de saída | Existe plano de desinvestimento ou reposicionamento caso os cortes se agravem? | Garantir flexibilidade estratégica em cenários adversos. |
Conclusão
O crescimento acelerado da geração eólica e solar no Brasil trouxe conquistas inegáveis em termos de descarbonização e diversificação da matriz elétrica. Contudo, os cortes de geração — que somaram recordes históricos em 2025 — expõem uma realidade incontornável: o curtailment não é um acidente, tampouco um evento imprevisível. Ele não é um “cisne negro”, mas sim um risco previsível, recorrente e mensurável, já documentado em diferentes mercados internacionais e amplamente reconhecido pelos estudos do ONS.
Para os conselhos de administração, essa constatação tem implicações diretas. Aprovar projetos renováveis sem incorporar cenários realistas de corte significa assumir uma exposição desnecessária, que compromete a rentabilidade, a credibilidade e a própria responsabilidade fiduciária perante acionistas e investidores. O dever de diligência exige que o curtailment seja tratado como variável estrutural nas análises de viabilidade, nos PPAs e na gestão de portfólio.
Da mesma forma, as soluções tecnológicas hoje apresentadas como resposta — baterias, hidrogênio verde, usinas reversíveis, eficiência e gestão da demanda — não devem ser vistas como panaceias. Elas oferecem oportunidades concretas, mas carregam riscos próprios de custo, regulação, tempo de maturação e viabilidade de mercado. Para não trocar um problema por outro, os conselhos precisam adotar uma abordagem integrada, questionadora e prudente.
O curtailment é, acima de tudo, um teste de governança. Ele separa as organizações que compreendem a transição energética como processo complexo, sistêmico e regulatório, daquelas que a enxergam apenas como selo ESG para atrair capital. O desafio não está em identificar o problema — hoje amplamente visível —, mas em estruturar mecanismos de decisão capazes de antecipar riscos, diversificar soluções e fortalecer a resiliência corporativa.
Assim, o recado final aos conselheiros é claro: não se deixem surpreender por um fenômeno que já se consolidou como realidade. Incorporar o curtailment no radar estratégico não é pessimismo, é prudência. A verdadeira falha não está no corte em si, mas em tratá-lo como surpresa. O “cisne negro” já foi desmascarado; agora, cabe aos conselhos transformar essa consciência em ação estratégica para proteger valor e garantir a sustentabilidade dos investimentos em renováveis.