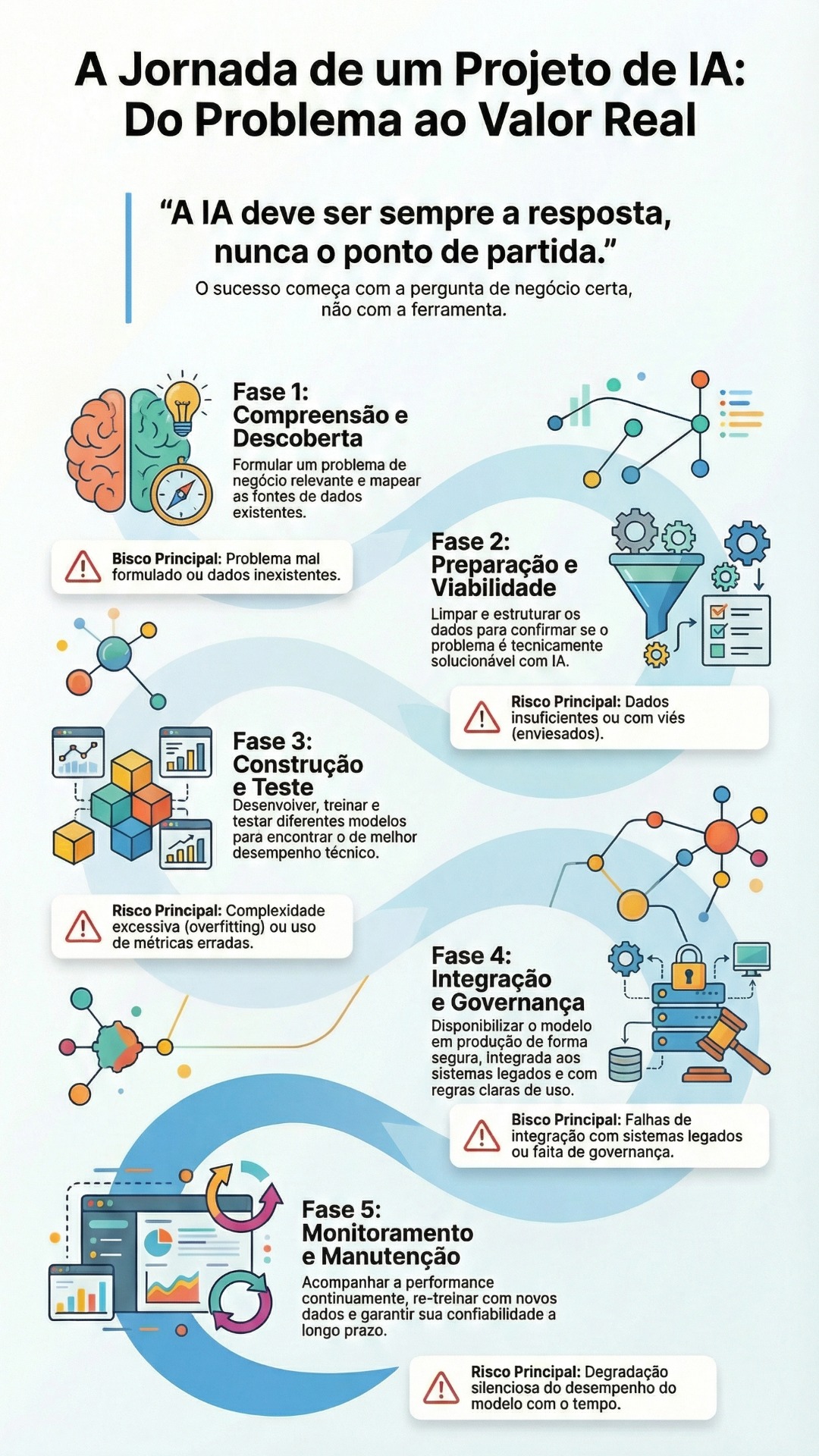Caso emblemático: São Paulo após vendaval, com interrupções por horas e dias
São Paulo, no dia seguinte ao vendaval, parecia um laboratório a céu aberto do que o Brasil ainda reluta em encarar como política pública permanente: resiliência não é um evento, é uma capacidade. Não é um problema que se resolve com um único slogan, nem com indignação pontual. É um sistema de decisões técnicas, financeiras e institucionais que precisa funcionar sob estresse. E, quando não funciona, a cidade paga em cadeia: energia, água, mobilidade, comércio, segurança, telecom, rotina.
O episódio recente expôs, de forma didática, a “equação da resiliência” em grandes metrópoles: um evento climático extremo gera múltiplas falhas simultâneas (queda de árvores, bloqueio viário, dano em rede aérea, indisponibilidade de equipes e logística), e o tempo de recomposição explode porque a própria cidade vira obstáculo da recuperação. Em 48 horas, ainda havia 1,3 milhão de imóveis sem energia, com efeitos em água (bombeamento), mobilidade e atividade econômica (perdas estimadas em R$ 1,54 bilhão no comércio e serviços). Isso não é apenas um problema de operação; é um problema de modelo: desenho de rede, gestão urbana, incentivos regulatórios e financiamento.
A solução “enterra tudo” (rede subterrânea) é tecnicamente válida, mas financeiramente pesada e operacionalmente complexa. Ela precisa ser tratada como programa plurianual, com priorização por criticidade, engenharia de transição e clareza de remuneração na tarifa. Em paralelo, há medidas de curto prazo com alto impacto: gestão de vegetação, hardening seletivo, automação de rede, melhoria de resposta a crises e, do lado do consumidor e de cargas críticas (data centers), arquitetura de continuidade baseada em microgrids e BESS (Battery Energy Storage System), reduzindo dependência de diesel e mitigando risco logístico.
Há, porém, uma camada adicional que raramente entra com clareza no debate. O cidadão não pode ser apenas espectador. Em crises de infraestrutura, a passividade social vira um multiplicador de tempo e de perdas. O Brasil demonstra solidariedade e engajamento em grandes tragédias. O que falta é transformar essa disposição em programa: seguro, coordenado, treinado e integrado à gestão de crise. Resiliência, na prática, também é organização comunitária.
O que o caso de São Paulo revela
O vendaval não derrubou apenas cabos; ele derrubou premissas.
Principais sinais do evento (públicos e mensuráveis):
- escala de clientes afetados e recomposição lenta (milhões atingidos inicialmente; centenas de milhares por dias)
- volume de quedas de árvores e chamados aos bombeiros (1.412 ocorrências reportadas)
- bloqueio de vias por troncos e postes, o que atrasa o acesso das equipes
- impacto econômico direto (FecomercioSP estimou perdas relevantes, na casa de bilhões)
- efeitos em cascata: aeroportos com disrupção, e falta de água por impacto no bombeamento
Em paralelo, o noticiário também evidencia o vetor institucional: aumento expressivo de multas e compensações ao consumidor, pressão política por “intervenção”, e judicialização recorrente. Isso reforça que, sem um plano estruturado, o tema vira crise cíclica: o evento extremo acontece, a resposta é reativa, e a cidade volta ao mesmo ponto na próxima temporada.
Há um detalhe operacional que explica parte do drama e costuma passar despercebido: quando avenidas e ruas ficam bloqueadas, a recomposição elétrica não depende apenas de eletricistas e materiais; depende de desobstrução, de tráfego, de coordenação local. A recuperação vira uma campanha, e campanhas dependem de logística. Se a cidade não abre caminho, a engenharia não chega.
A mecânica da falha: por que falta energia por dias
Em metrópoles, o tempo de recomposição (restauração) é determinado menos pela falha elétrica isolada e mais pelo atrito sistêmico. Em linguagem de operação, o que estoura é o MTTR (Mean Time To Repair), não apenas a taxa de falhas.
Vetores típicos que alongam a recomposição:
- danos “muitos-para-muitos” na rede de distribuição: inúmeras ocorrências simultâneas, em vez de poucos defeitos concentrados
- quedas de árvores sobre rede aérea e postes; redes aéreas são mais rápidas e baratas para expandir, mas mais expostas
- bloqueio viário e segurança: equipe não chega, guindaste não passa, desligamento de área fica mais complexo
- dependência de ativos urbanos: semáforos, bombas, telecom, tudo vira carga crítica interdependente
- limitação de recursos: equipes, materiais, transformadores, cabos, chaves, postes; e coordenação com prefeitura e defesa civil
- comunicação e comando: se a rede de telecom é afetada, perde-se telecontrole e coordenação, piorando o despacho de equipes
Resultado: a recomposição deixa de ser “conserto” e passa a ser “campanha”, com triagem por criticidade e logística de guerra.
É aqui que a participação social organizada pode reduzir fricção. Não para operar rede elétrica, o que é função técnica e regulada, mas para acelerar aquilo que destrava a operação: informação de qualidade, proteção de vulneráveis, cooperação local, apoio à desobstrução leve quando seguro, e respeito a perímetros de risco. Sem programa, a energia social se dissipa; com programa, vira ativo de resiliência.
Rede subterrânea: solução real, mas não é slogan
Enterrar cabos (undergrounding) reduz drasticamente exposição a vento e queda de árvores, mas traz três dimensões críticas:
- CAPEX (Capital Expenditure) alto e concentrado A obra é cara porque envolve escavação, remanejamento de utilidades (água, esgoto, gás, telecom), câmaras, drenagem e recomposição viária.
- Transição com risco operacional Migrar com a cidade viva exige janelas de obra, contingência e comissionamento rigoroso. Sem isso, o “remédio” cria interrupções prolongadas durante anos.
- Modelo de remuneração e incentivos Concessionária analisa WACC (Weighted Average Cost of Capital), risco e retorno regulatório. Se o investimento não estiver reconhecido na base regulatória com sinal econômico claro, ele não escala. Aqui está o ponto duro: se a sociedade exige resiliência estrutural, precisa aceitar a conta — ou criar um mecanismo transparente de financiamento e equalização.
Diretriz pragmática: rede subterrânea deve ser programa por criticidade, não ideologia. Começa-se por corredores vitais (hospitais, centros de operação, bombeamento, telecom, eixos de mobilidade, centros financeiros), e expande-se por clusters.
Regulação e tarifa: onde a equação trava
O debate real não é “quem é culpado”; é “como alinhar incentivos para reduzir risco sistêmico”.
O que aparece no caso:
- crescimento expressivo de multas e compensações automáticas, indicando pressão por desempenho
- tensões entre ente local (prefeitura), regulador e concessionária
- judicialização e incerteza, que elevam custo de capital e atrasam plano de longo prazo
- discussão sobre intervenção como sinal de esgotamento do modelo reativo
Diretriz de política pública (objetiva): ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) precisa incorporar, de forma explícita, investimentos de resiliência (rede subterrânea seletiva, automação, hardening, redundâncias, modernização de subestações e telecontrole) no modelo de custos eficientes e no desenho de incentivos. Sem isso, o sistema recompensa “apagar incêndio”, não “reduzir incêndio”.
Quanto a funding: a CDE (Conta de Desenvolvimento Energético) pode mitigar choque tarifário, mas ela já carrega múltiplas políticas públicas e pressões distributivas. Logo, a solução sustentável é um mix: reconhecimento regulatório, instrumentos financeiros dedicados e governança com metas por criticidade.
Gestão urbana de vegetação: o “curto prazo” que a cidade controla
Em São Paulo, árvore é infraestrutura. O risco climático transforma arborização em ativo crítico que precisa de política técnica.
Ponto de equilíbrio:
- preservar e expandir áreas verdes continua sendo estratégico (ilha de calor, drenagem, saúde urbana)
- ao mesmo tempo, árvores doentes e manejo inadequado viram risco de colapso em vento extremo
Ações com impacto rápido (e custo relativamente baixo):
- inventário técnico e classificação de risco por espécie, idade, incidência de pragas e histórico de queda
- plano de poda e substituição com base em engenharia de risco, não em demanda reativa
- protocolo de “janela de tempestade”: pré-posicionamento de equipes e liberação rápida de corredores
- integração prefeitura–concessionária–defesa civil, com RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) claro
Aqui, a tradição ajuda: cidades resilientes sempre trataram manutenção preventiva como pilar. O que muda é o nível de severidade climática e a necessidade de governança integrada.
Cargas críticas e data centers: resiliência não pode depender só de diesel
Você trouxe um ponto crucial: eventos extremos podem bloquear avenidas e impedir o transporte de diesel. Em interrupções longas, isso ameaça data centers e outras cargas críticas, mesmo com geradores, especialmente se houver também degradação da rede de comunicação.
Arquitetura recomendada para continuidade (visão moderna, com pragmatismo):
- microgrids (micro-redes) com capacidade de ilhamento e controle local
- BESS (Battery Energy Storage System) para ponte de autonomia, redução de partidas de gerador e suavização de transientes
- geração local e/ou cogeração a gás natural, onde fizer sentido econômico e ambiental, especialmente para grandes condomínios empresariais com demanda térmica (refrigeração)
- múltiplas rotas e contratos logísticos de combustível, mas tratados como “última linha”, não “linha principal”
- telecom resiliente: links redundantes, energia dedicada para torres/POPs, e plano de fallback operacional
Isso abre, de fato, uma avenida de negócios em Energy-as-a-Service (EaaS): pacotes de resiliência com SLA (Service Level Agreement), CAPEX-to-OPEX, monitoramento, manutenção e performance garantida.
O cidadão como parte da solução: engajamento, não passividade
Resiliência urbana é uma competência coletiva. A concessionária precisa fazer o trabalho técnico; o poder público precisa coordenar a cidade; e o cidadão precisa parar de operar como audiência. A forma madura de fazer isso é criar um programa estruturado de participação, com três princípios: segurança, coordenação e utilidade.
O que esse programa pode conter, sem romantismo e sem improviso:
- preparação mínima em residências e condomínios (lanternas, power banks, água, protocolo de vizinhança e checagem de vulneráveis)
- comunicação padronizada de ocorrências (localização precisa, tipo de dano, risco imediato), reduzindo ruído e duplicidade
- apoio comunitário a idosos, pessoas com mobilidade reduzida e famílias em situação vulnerável
- cooperação com rotas prioritárias definidas pela prefeitura para desobstrução e circulação de equipes técnicas, sempre respeitando perímetros de risco elétrico
- cultura de segurança: cabo no chão não é “curiosidade”, é risco crítico
A lógica é simples: em evento extremo, a cidade vira gargalo. Se a população ajuda a reduzir gargalos operacionais e sociais, o sistema técnico recupera mais rápido e com menos danos secundários. Solidariedade existe. Falta governança para transformar solidariedade em capacidade.
O que fazer: roadmap por horizontes
Curto prazo (0–12 meses)
- gestão de vegetação baseada em risco, com metas e auditoria
- hardening seletivo de trechos mais vulneráveis (cruzamentos críticos, alimentadores com histórico de falha)
- automação e telecomando em pontos estratégicos para reduzir tempo de isolamento de faltas
- plano de resposta a eventos extremos: pré-posicionamento, estoque crítico, contratos e governança
- desenho do programa de engajamento cidadão, com treinamento leve, protocolos e integração com defesa civil
Médio prazo (1–3 anos)
- programa de rede subterrânea por criticidade (corredores vitais e clusters)
- modernização de subestações e reforço de capacidade em regiões com carga crescente
- arquitetura de continuidade para cargas críticas (microgrids + BESS + geração local) com padrões mínimos
- consolidação de indicadores públicos de desempenho de resiliência por região e criticidade
Longo prazo (3–10 anos)
- redes mais modulares, com redundância planejada e “stress-test climático” como premissa de projeto
- reconfiguração urbana: obras coordenadas (energia + drenagem + telecom), reduzindo retrabalho
- instrumentos financeiros dedicados e modelo regulatório que premie redução estrutural de risco, não só resposta
- maturidade social: programa cívico recorrente, com simulações e educação comunitária de risco
Fechamento: a equação, sem ilusões
Resiliência não é um produto; é uma escolha coletiva com custo, governança e priorização. O caso de São Paulo mostra que a sociedade já paga pela não-resiliência: perdas econômicas, risco à saúde, disrupção de serviços essenciais e desgaste institucional.
O caminho mais inteligente é combinar legado e futuro: manter o que sempre funcionou (manutenção preventiva séria, engenharia conservadora onde precisa) e acelerar o que falta (automação, subterrâneo seletivo, microgrids, BESS e modelos EaaS). Soluções existem. A decisão é: quem paga, por qual prioridade, e com quais metas de desempenho.
E há uma decisão cultural que acompanha todas as outras: ficar no papel de espectador custa caro. Se eventos extremos serão mais frequentes, o país precisa profissionalizar a resposta. Isso inclui infraestrutura, regulação e também cidadania organizada. Em uma metrópole, resiliência é, no fim, uma forma de pacto urbano.
Como podemos ajudar
Este tema exige pragmatismo e execução. Nosso foco é apoiar principalmente prefeituras (e seus órgãos operacionais) a reduzir tempo de recomposição e danos secundários em eventos extremos, com um pacote enxuto de diagnóstico, governança e capacitação.
- Apoio à prefeitura para organizar a resposta e reduzir o MTTR (Mean Time To Repair)
- estruturação de um plano municipal de contingência com papéis claros entre secretarias, defesa civil, trânsito e serviços essenciais
- definição de prioridades operacionais (corredores críticos e serviços vitais) e rotinas de pré-posicionamento para eventos severos
- desenho de indicadores simples (KPI (Key Performance Indicator)) para acompanhamento e transparência durante a crise
- Mobilização cidadã com segurança e coordenação
- implantação de um programa de engajamento comunitário para orientar o que é seguro e útil antes, durante e após o evento
- guias rápidos para síndicos, escolas, comércio local e líderes comunitários, com checklists e mensagens padronizadas
- campanhas de educação de risco e preparação mínima, reduzindo passividade e improviso
- Capacitação e padronização operacional
- treinamento objetivo para equipes municipais e lideranças territoriais, com playbooks de decisão sob estresse
- simulações e “exercícios de mesa” (tabletop) para testar coordenação, comunicação e escalonamento
- Suporte analítico e técnico-institucional
- notas técnicas e briefs executivos para embasar decisões da prefeitura, com foco em viabilidade, custo, priorização e governança
- apoio na comunicação institucional em crise, reduzindo ruído e aumentando aderência social às prioridades definidas
- Tecnologia habilitadora, quando fizer sentido
- apoio na organização de informação e rotinas digitais de gestão de crise, sem dependência de projetos longos
- canais padronizados para reporte de ocorrências e orientações ao cidadão, com governança e segurança
Modelo de atuação
Atuamos em ciclos curtos e objetivos: diagnóstico rápido, alinhamento de governança e implantação de rotinas essenciais. O objetivo é gerar ganho operacional imediato e deixar capacidade instalada na prefeitura para o próximo evento, sem criar dependência.
Atualização
Após a publicação deste artigo, uma reportagem do Estadão (14/12/2025) reuniu contribuições de especialistas e trouxe alguns pontos adicionais que ajudam a deixar a discussão mais objetiva do ponto de vista operacional.
- Alternativas intermediárias ao subterrâneo (hardening seletivo) – Além do enterramento de rede (solução de maior impacto, porém mais cara e lenta), há ganhos relevantes ao substituir trechos de rede convencional por redes compactas, com condutores mais próximos, separadores e algum nível de isolação. Em eventos de vento e queda de galhos, isso pode reduzir curto-circuitos e desligamentos por contato entre fases, funcionando como uma medida de reforço seletivo em regiões mais vulneráveis.
- Automação para reduzir tempo de recomposição – Recursos de automação com chaves e religadores automáticos podem acelerar a restauração em falhas transitórias: o sistema tenta religar após um intervalo e, apenas se a condição persistir, mantém o desligamento e aciona o atendimento em campo. Esse tipo de automação não elimina o dano físico, mas reduz o volume de deslocamentos desnecessários e melhora o MTTR (Mean Time To Repair), sobretudo quando há múltiplas ocorrências simultâneas.
- Gestão de arborização com dados (LiDAR) – A Prefeitura informou o avanço de um mapeamento arbóreo com tecnologia LiDAR, que tende a elevar a qualidade do inventário, permitindo melhor leitura de espécies, porte e risco, e, com isso, priorização mais técnica de poda, substituição e remoção. Esse é um ponto-chave porque, em São Paulo, árvore é infraestrutura, e a sua gestão afeta diretamente a exposição da rede e o tempo de recomposição.
- Mapeamento de ventos de baixa altitude e análise preditiva – Também foi destacada a importância de mapear a dinâmica de ventos em baixa altitude para entender padrões locais e melhorar a previsão operacional. Na prática, isso suporta o pré-posicionamento de equipes, materiais e rotas prioritárias, e fortalece o uso de análise preditiva (incluindo algoritmos e IA (Inteligência Artificial)) para antecipar regiões de maior risco.
- Nota de realismo econômico – Reforça-se o ponto central: subterrâneo é eficaz, mas a ordem de grandeza de custo pode ser significativamente superior à rede aérea. Logo, a transição precisa ser tratada como programa plurianual por criticidade, com governança e sinal regulatório claro, evitando promessas genéricas e maximizando retorno socioeconômico do investimento.
Esses acréscimos não alteram a tese do artigo; ao contrário, ajudam a explicitar o conjunto de opções entre o “status quo” e a solução estrutural de maior CAPEX (Capital Expenditure), reforçando a necessidade de priorização, dados e coordenação para reduzir o tempo de recomposição em eventos extremos.